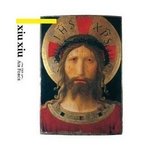Apreciação final: 8/10
Edição: Creative Sources, Setembro 2006
Género: Jazz Vanguardista
Sítio Oficial: http://rt2.planetaclix.pt/seimiguel
Edição: Creative Sources, Setembro 2006
Género: Jazz Vanguardista
Sítio Oficial: http://rt2.planetaclix.pt/seimiguel
Sei Miguel é um cidadão da vanguarda do jazz. Artífice de singular competência com o trompete, mestre na extravagante investigação dos limites do espectro tonal, Sei Miguel tornou-se uma das mais expressivas entidades da moderna música lusa. O culto do risco e das ciências fragmentárias do som, a proporção entre a omissão e o discurso mínimo, a álgebra binária e a sugestão plural do trompete, são alguns dos conceitos emblemáticos dos itinerários errantes do trompetista português. O novel opus, The Tone Gardens, espia os mesmíssimos silogismos, aqui inscritos em três peças conceptuais, amostras férteis de incertos jardins de tensões movediças. A dedicação a esses sons de contingência, como se fossem o senso guia da expressão tonal do disco, é matéria não estranha a Sei Miguel e seus pares. O silêncio não é inimigo, antes é acatado como fragmento importante dos exercícios de improviso grupal. Ao trompete de bolso de Miguel, substância liderante de cada episódio, fazem contraponto o trombone alto - filamento indispensável ao ânimo coloquial do disco - de Fala Mariam, as partículas percussoras de César Burago e a electrónica avulsa de Rafael Toral, interposições úteis ao embalo incerto das composições. Estes músicos são comparsas de longa data de Sei Miguel, conhecem-lhe os truques e praxes e isso é perceptível nas três suites de The Tone Gardens, pela harmonia e intimidade na arrumação dos sons, pela convergências nas construções e pela coerência.
Como em qualquer produto de Sei Miguel, a música de The Tone Gardens não é gorda nem se enche de cores desnecessárias. O recheio é de uma sobriedade superlativa, quase espartano, mesmo que se perceba, nas orações despojadas de cada jardim, um cuidado acrescido na produção, por comparação com outros títulos de Sei Miguel. A delicadeza das peças, agora com arestas limadas, não lhes perturba a precisão e o sentido estético, a confluência de energias e a estruturação complexa. Ainda assim, The Tone Gardens não é jazz clássico e, por isso, pode não ser tão eficaz a convencer tímpanos menos preparados para o vanguardismo. De qualquer jeito, Sei Miguel é nome maiúsculo da música lusa e The Tone Gardens um documento supremo do novo jazz, desta e doutras eras. Na sua época, o mítico Miles Davis, cuja magna silhueta é plano referencial de Sei Miguel (e de qualquer trompetista que se preze), disse que o músico genuíno não teme o erro porque ele não existe. The Tone Gardens, corroborando esse ensinamento do mestre, não teme os riscos da incursão em órbitas futuristas e da integração de elementos instrumentais incomuns. E do erro, nem vestígio...