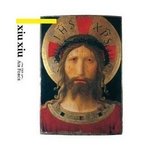Apreciação final: 8/10
Edição: Big Dada/Ninja Tune, Abril 2006
Género: Hip Hop/Underground Rap/Fusão
Sítio Oficial: www.bigdada.com
Edição: Big Dada/Ninja Tune, Abril 2006
Género: Hip Hop/Underground Rap/Fusão
Sítio Oficial: www.bigdada.com
Apesar de ser uma estirpe sonora que amiudadamente nos brinda com produtos renovadores e que certificam a sua dinâmica expansiva e alargadora de fronteiras, o universo hip hop nem sempre se cruza meritoriamente com outras famílias. A primeira edição do projecto Spank Rock, em que o MC Naeem Juwam faz equipa com o expert de beats Chris Rockswell e o renomado produtor XXXchange, é um desses discos em demanda por ares híbridos das sínteses electrónicas e do underground rap. Escutar Yo Yo Yo Yo Yo é fazer, de uma assentada, um curso de hip-hop hedonista (as divagações sexuais estão por todo o disco), uma vezes próximo dos registos vocais tradicionais da oldskool, noutros ápices mais próximo da ciência de vanguarda, de electrónica precisa e oportuna (mesmo quando parece saída de um vídeo jogo dos anos 80), de baixo sintético sempre em riste, de tentativas techno bem sucedidas com embalos soul, de insinuações sonoras sem freio mas conjugadas no tempo certo. O axioma é a sedição contra regras, ao jeito patrocinado por Diplo, o preconceito não encaixa em tamanho estoiro de criatividade e visão ecléctica. A produção não tem mácula, é da melhor filigrana deste ano, sublinha a lascívia da lírica e soma impurezas à sonoridade do álbum, inventando um registo com a electricidade contagiante e o caos (des)controlado de um clube no prelúdio da madrugada. Depois de precipitada a diversão, o circo dos Spank Rock denuncia claramente o seu propósito maior: agitar cinturas e fervilhar hormonas ("Touch Me" até faz de metrónomo para os mais audazes!).
Dêmos graças aos Spank Rock por mesclarem temperamento recreativo com originalidade e, ao mesmo tempo, conseguirem a façanha de tocar a modernidade e manter um senso retro (herança das fusões electro dos dinossauros Afrika Bambataa e Kool Herc). A premissa para fazer um disco como Yo Yo Yo Yo Yo sem cair no natural impulso de exagero que aflige outros híbridos do hip hop é o engenho. E essa faculdade é inscrita a traço resoluto neste álbum, não deixando espaço para dúvidas: a despeito da insistência quase intempestiva no teor sexual das letras, coisa algo descomedida, Yo Yo Yo Yo Yo é um debute impressionante de uma nova matéria na comunidade hip hop. E uma das mais talentosas e eficazes cápsulas anti-tédio do ano.